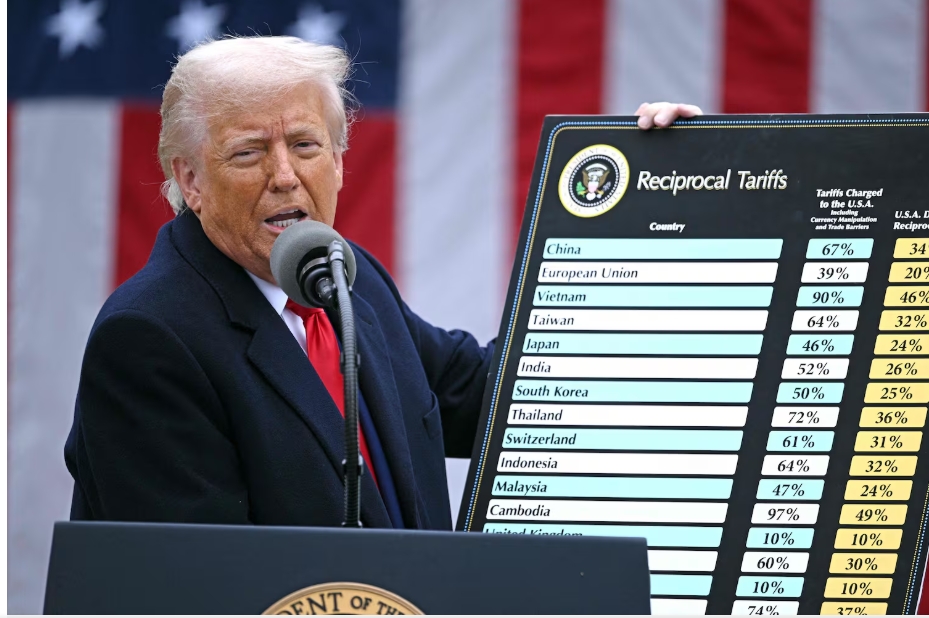Crise bancária: os tremores continuam

Na última semana, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, houveram novos episódios da crise bancária internacional iniciada há quase dois meses com a falência do SVB (Silicon Valley Bank) e do Signature Bank, e a caída do Credit Swiss. Por que essa crise está ocorrendo? Qual é a sua dinâmica e como se relaciona com a dinâmica geral da economia internacional?
Por: Alejandro Iturbe
Nos EUA, um terceiro banco “médio” caiu em menos de dois meses, o First Republic Bank, apesar de uma tentativa de resgate com um fundo de 30 bilhões de dólares, fornecido pelos grandes bancos de investimento do país.
Uma declaração recente da FDIC (siglas em inglês da Corporação Federal Seguradora de Depósitos) anunciou que estava fechando o banco com sede em São Francisco e vendendo suas operações para o JP Morgan Chase, que pagou US$ 10,6 bilhões pelo negócio. Segundo o FDIC, a falência do First Republic “implicará um custo, para os cofres do Estado, próximo a US$ 13 bilhões'” para garantir os depósitos [1].
Foi um grande negócio para o gigante do investimento, pois manteve os “ativos de melhor qualidade do banco falido” apoiados por uma “série de garantias ‘douradas’“, enquanto os depósitos relacionados a ativos de “baixa qualidade” são cobertos por dinheiro contribuído pelo FDIC (ou seja, pelos contribuintes) [2].
Um sistema bancário doente
O objetivo do FDIC era evidentemente evitar uma corrida de pânico dos depositantes de outros bancos problemáticos e um “efeito cascata” de novas falências, no contexto de um sistema bancário severamente prejudicado.
Um estudo da Universidade de Stanford mostra que a situação dos bancos americanos “pode ser ainda pior do que se imaginava” e alerta para “200 bancos em situação de vulnerabilidade“. Uma nova pesquisa do Instituto Hoover mostra que “2.315 instituições financeiras estão sustentadas em ativos que valem menos que seus passivos“. Uma diferença negativa estimada em “dois trilhões de dólares” [3]. Este é o resultado da depreciação do “saldo de ativos de longo prazo, como ativos hipotecários e títulos de 10, 20 e 30 anos” que foram prejudicados pela política de aumento de juros promovida pelo Fed.
Incluídos nesse total estão bancos de diversos tamanhos e muitas pequenas instituições locais. Mas também os bancos regionais “médios” (aqueles que seguem os gigantes por ordem de importância). Os três mais ameaçados pela “aversão ao risco” são PacWest Bancorp, Western Alliance Bank e KeyCorp porque “perderam mais de 50% desde a falência do SVB em março”.
Até agora, os grandes bancos de investimento e outros gigantes parecem a salvo da onda de choque de desconfiança no sistema. A política adotada pelo FDIC no caso First Republica Bank-JP Morgan Chase visa evitar esse “contágio”. Mas a preocupação começa “pelo impacto que esta aquisição vai trazer para a saúde financeira do JPMorgan. Uma visão que começa a ganhar peso em Wall Street e questiona a tese de que há bancos grandes demais para falir nos EUA (“too big to fail”) [4].
O que fazer?
Nesse contexto, há críticas muito fortes à política que o FDIC está aplicando. Por exemplo, Bill Ackman, fundador da Pershin Square, gestora de hedge funds (fundos de investimento “livres” e de alto risco) parte do diagnóstico de que “o sistema bancário regional dos Estados Unidos está em risco”[5].
Ele analisa que já existe uma profunda “crise de confiança” nos depositantes e investidores que sacam seus depósitos a qualquer alerta: “nenhum banco regional sobrevive a más notícias ou maus dados” que levam a uma “inevitável queda no preço de suas ações”. Os depósitos são retirados na “busca de alternativas estratégicas” e que se iniciou um “efeito dominó” que terá “um grande custo sistêmico e econômico”.
Diante dessa dinâmica, ele critica a política do FDIC de agir “caso a caso” e, como no caso do First Republic Bank, “tarde demais”. A sua proposta é criar de imediato “um sistema de garantias para todo o sistema [bancário]” que evite “crises de confiança” e corridas. Segundo ele, “estamos ficando sem tempo para corrigir esse problema. Quantas falências bancárias desnecessárias temos que assistir antes que o FDIC e nosso governo acordem?”
É evidente que, como gestor de fundos de hedge, Ackman é parte interessada porque seu campo de negócios está se estreitando e ele é afetado pela “crise de confiança” no sistema bancário. Mas ele levanta um problema real e concreto: a política do FDIC não impediu o efeito cascata ou a dinâmica dominó no setor bancário regional de médio porte. Uma dinâmica que, como vimos, em perspectiva, também pode ameaçar grandes bancos de investimento e outros gigantes (o “custo sistêmico”).
Diante disso, sua proposta de criar “um sistema de garantias para todo o sistema” significa criar um “escudo” para o setor de bancos regionais de médio porte que cubra os buracos criados pelos maus negócios e apostas especulativas que eles fizeram. Uma cobertura que seria feita com recursos do Tesouro americano. Ou seja, seria feito com recursos de todos os contribuintes do país (ou de compradores estrangeiros de títulos do Tesouro).
É uma política semelhante à aplicada por Obama diante da crise bancária de 2008, após a queda do Lehman Brothers. Só que, naquela época, o Fed atuava diretamente como a “seguradora” dos grandes bancos, e nesse caso, começaria pela “parte do meio” do sistema bancário.
A dívida pública americana
A economia dos EUA é deficitária: ou seja, consome mais do que produz: “A economia dos EUA nos últimos anos foi construída sobre os chamados ‘déficits gêmeos’ da balança comercial externa e do orçamento do Estado”. […]
“A soma dos dois déficits fez com que, em 2007, para funcionar normalmente e não parar, a economia americana necessitava que entrasse uma média de 3 bilhões de dólares por dia, do exterior, por meio de receitas da venda de títulos do tesouro, outros empréstimos, investimentos diretos, remessas de lucros e royalties de subsidiárias de empresas no exterior, etc. Através de diferentes mecanismos, a economia dos Estados Unidos funciona como um ‘aspirador’ de toda uma parte da mais-valia extraída em outras regiões do mundo” [6].
O déficit orçamentário significa que o Estado gasta mais do que recebe diretamente dos impostos. Para pagar suas contas (fornecedores, benefícios previdenciários, salários do governo e militares, etc.) deve “pegar emprestado” e acumular dívida pública. Isto é feito através da emissão e venda de obrigações do Tesouro pelas quais paga uma determinada taxa de juro fixada pela Fed. Juros que, ao mesmo tempo, aumentam as obrigações de pagamento do Estado e, com isso, o próprio défice.
A verdade é que esse déficit vem crescendo constantemente há décadas. Houve períodos de maior aumento; por exemplo, aquele impulsionado pelo endividamento derivado da política de Obama de “injetar liquidez” para salvar o sistema bancário falido; ou o financiamento dos “pacotes de estímulo econômico” votados pelo governo Joe Biden. A tabela a seguir nos mostra sua evolução desde seu piso na década de 1990 até os atuais 31,4 bilhões.

O dilema da taxa de juros
A taxa de juros estabelecida pelo Fed para títulos do Tesouro atua como a “taxa básica de referência” para todo o sistema bancário dos EUA e, de fato, global. Quando esta taxa é baixa, diz-se que promove uma “política de dinheiro barato”. Pelo contrário, uma taxa mais elevada implica uma política de “aumento do custo do dinheiro”. A verdade é que o Fed vem de um ano de altas graduais em sua taxa que chegou a 5,25% neste mês (a maior dos últimos quinze anos).
Essa política de juros altos do Fed tinha dois objetivos. A primeira é garantir uma venda tranquila de títulos do Tesouro para financiar os “pacotes de estímulo lançados pelo governo Biden”. A segunda foi usar a política de “aumento do custo do dinheiro” para diminuir a alta inflação que caracterizou a fraca recuperação econômica pós-pandemia [7]. Em outras palavras, “secar os mercados” para reduzir a pressão inflacionária representada pelo “excesso de dinheiro” gerado por muitos anos de super emissão monetária (de 2008 até agora).
A burguesia convive com a inflação e a usa como arma contra os trabalhadores, através da erosão do valor real dos salários (combinando isso com planos de ajuste em setores como a saúde e educação públicas, ou privatizações de serviços, como o transporte). Mas, ao fazê-lo, abre um flanco da luta de classes que é aguçado pela resposta dos trabalhadores e da juventude, como mostram as grandes lutas da Europa (especialmente na França e na Grã-Bretanha). Havia um potencial semelhante nos EUA (já houve indícios disso nos últimos anos).
Em seguida, passa a “combater” a inflação com medidas monetaristas clássicas: aumentar as taxas de juros (tornar o custo do dinheiro mais caro) para “secar” os mercados. Assim, consegue algum sucesso parcial (nos EUA, a inflação caiu de mais de 8,5, em 2021, para os 6% estimados para este ano [8]).
Mas, ao mesmo tempo, esta política de “secagem dos mercados”, por um lado, aumenta uma tendência recessiva já existente na economia em geral e, por outro, deixa as instituições bancárias mais comprometidas numa situação muito difícil e vários começam a cair (que é o que estamos vendo agora). Ou seja, com a inflação, o capitalismo imperialista enfrenta uma situação semelhante à “história curta”.
Confrontado com esta contradição, o Fed dá sinais contraditórios. Ao mesmo tempo que anunciou seu último aumento de sua taxa de juros, deixou aberta, com uma linguagem, a possibilidade que poderia começar a baixa-la a partir de 2024. Se isto se concretiza, se produziria o que os economistas burgueses chamam “curva oposta de rendimento”. Ou seja, “as taxas de juros desses ativos são maiores no curto prazo (três ou dois anos) do que no longo prazo (10 anos)” [9].
Essa configuração é o que leva os especialistas do Bank of America a prever que essa crise bancária nos EUA levará a uma “recessão econômica geral” e que essa dinâmica “poderá ocorrer ao longo do próximo trimestre“. Toma como antecedentes, situações semelhantes ocorridas em 1990, 2001 e 2008[10].
Os dados levantados pelos especialistas do Bank of America são extremamente técnicos e nem mesmo está claro qual será a taxa de juros fixada pelo Fed a partir de 2024. Mas esse prognóstico pessimista expressa o temor de analistas e economistas burgueses de que a combinação de vários fatores está configurando a “tempestade perfeita”.
A confusão com o teto da dívida
Soma-se a todos os fatores já analisados um problema circunstancial, mas muito agudo: em 1º de junho, os EUA terão alcançado o uso do “teto da dívida pública” autorizado pelo Congresso. O governo de Joe Biden precisa que o Congresso aprove uma nova ampliação desse “teto” para emitir e vender novos títulos do Tesouro para atender às suas necessidades. Do contrário, entrará em default: cessação dos pagamentos, tanto de suas despesas correntes, como dos juros aos detentores de títulos do Tesouro. Algo que teria um impacto catastrófico não só nos EUA, mas em toda a economia capitalista mundial [11].
As últimas eleições de meio de mandato (2019) determinaram um impasse parlamentar: os democratas mantêm uma maioria muito pequena no Senado, enquanto os republicanos são maioria na Câmara dos Deputados, que é a câmara onde os projetos devem ser iniciados. Ou seja, o governo Joe Biden não pode aprovar um aumento do teto da dívida sem negociar com os representantes republicanos (ou pelo menos com um setor deles).
As negociações já começaram de forma “febril”, com “limite de vencimento”. Em meio a um ano marcado pela campanha e pelas eleições presidenciais do final do ano, “os republicanos querem que Biden corte gastos, incluindo alguns de seus programas emblemáticos”, como o sistema público de saúde Medicare, para corroer as perspectivas da reeleição de Joe Biden. Por sua vez, os democratas se recusam a conceder esses cortes e “denunciam uma ‘extorsão irresponsável dos republicanos’ que afetará os americanos”[12].
Muito provavelmente, os democratas acabarão concordando com alguns pequenos cortes e, eventualmente, o aumento do teto da dívida será aumentado. Isso quer dizer que não se chega à situação de default. O que queremos destacar é que essa situação política ocorre em meio a uma situação precária do sistema bancário norte-americano e de uma possível dinâmica recessiva de sua economia, e contribui para agravar ambos os problemas.
A crise se expande para a Europa
O “efeito dominó” ocorre não só nos Estados Unidos, mas também começa a se espalhar pela Europa, por meio de vasos comunicantes e investimentos cruzados entre instituições financeiras.
Um exemplo é a situação da Alecta, o maior fundo de pensões da Suécia, que administra ativos no valor de 100 bilhões de dólares para 2.600.000 clientes [13].
Nos últimos meses, a Alecta havia vendido sua participação majoritária em bancos suecos (como o Handelsbanken) para investir em entidades americanas que já enfrentavam problemas e queda nos preços das ações.
Desta forma, a Alecta tornou-se o quarto maior acionista do Silicon Valley Bank, o quinto do First Republic Bank e o sexto do Signature Bank. É um tipo de operação financeira arriscada conhecida como “buying shorty” (comprando em baixa). A expectativa era de que o FDIC salvasse esses bancos, o que aumentaria o preço de suas ações e permitiria à Alecta obter um lucro grande e rápido. Mas a aposta deu errado e esses bancos acabaram falindo.
Diretamente, a Alecta perdeu 2 bilhões de dólares nessa operação e Magnus Billing, o diretor executivo que a havia decidido, foi forçado a renunciar. Outra consequência foi uma “fuga de clientes”: nesses meses, o fundo sueco registrou 7.000 pedidos de saída.
A deterioração dos ativos da Alecta, por enquanto, é pequena se comparada à sofrida pelos bancos americanos. A “perda de confiança” de seus clientes também é consideravelmente menor. Mas é uma amostra de como o efeito contágio atravessa fronteiras e de como também na Europa uma parte do apoio patrimonial das instituições financeiras se baseia em “apostas”.
Um fator que não mencionamos neste artigo é o da luta de classes: isto é, a resposta dos trabalhadores e das massas aos ataques das burguesias e dos governos, como nos mostra a realidade europeia com seu epicentro na França. Esta crise bancária em curso e a antecipada dinâmica recessiva da economia mundial farão com que a burguesia e os governos aumentem esses ataques. Ao fazer isso, eles alimentarão as condições objetivas que impulsionam essa resposta. Se, como vemos na França, a luta de classes endurecer, será outro fator central na criação de uma “tempestade perfeita” para o capitalismo imperialista.
________________________________________
[1] Quebró el First Republic y será rescatado por el JP Morgan (diariopopular.com.ar)
[3] Idem
[4] Idem
[6] Sobre esse tema, recomendamos a leitura do “Capítulo 8: EUA, epicentro da crise atual” do livro O sistema financeiro e crise da economia mundial, de Alejandro Iturbe, Editora Sundermann, Brasil, 2009.
[7] Economia global: recuperação anêmica com muitos problemas – https://litci.org/pt/2021/10/02/64989-2/
[9] La crisis económica podría ser inminente, alertan desde Bank of America (eleconomista.es)
[10] Idem
[12] Idem